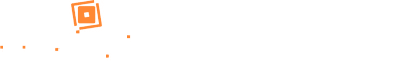Este estudo se situa no campo da comunicação e saúde, ancorado na pesquisa ativista, com o objetivo de analisar as práticas comunicacionais vivenciadas no interior do movimento de mulheres negras, que oportunizam autocuidado e cuidado coletivo enquanto caminhos para o Bem Viver. Tendo a minha trajetória de vida e atuação junto a Articulação de organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) e o Coletivo Feminista de Autocuidado e Cuidado entre Defensoras de Direitos Humanos - CFACDDH, foi tida a escrevivência como parte ativa do processo de sistematização, tendo como objeto empírico os relatórios de três oficinas sobre autocuidado e cuidado coletivo ocorridas entre os anos de 2019 e 2023, nas organizações: Odara - Instituto da Mulher Negra (BA), em 2019; Instituto de Mulheres Negras do Amapá - IMENA (AP), em 202; e Rede Mulheres Negras – PR, em 2023. A metodologia de análise dos materiais foi realizada por meio de metodologia qualitativa, composta pela etnografia da memória e a etnografia de documentos, buscando a identificação de práticas de comunicação e saúde que estejam voltadas para a promoção do autocuidado e cuidado coletivo na direção do Bem Viver, adotando, como referenciais teóricos, os conceitos de direito à comunicação, comunicação e saúde, e a interseccionalidade como fundamentais para a garantia do direito à saúde, a partir de referências articuladas com o cotidiano de promoção de autocuidado e cuidado coletivo a partir das mulheres negras. Com essa dissertação, espera-se, fomentar o debate comunicacional entre as organizações e coletivos de mulheres negras, contribuindo para a potencialização da comunicação enquanto direito humano e social, além de oferecer subsídios para incrementar propostas metodológicas e analíticas, que sejam direcionadas para esse público, bem como impulsionar o campo de pesquisa no âmbito de comunicação e saúde, às percepções a partir desse grupo social, que visem à promoção de autocuidado e cuidado coletivo como caminhos para o Bem Viver.
A pesquisa analisa editoriais do jornal Folha de S. Paulo (FSP), no contexto da Covid-19, com o objetivo de investigar como o veículo abordou, simultaneamente, os temas da austeridade fiscal, com ênfase na Emenda Constitucional 95 (EC 95) — o teto de gastos — e o Sistema Único de Saúde (SUS), essencial para enfrentar uma crise sanitária. Foram examinados 123 editoriais, publicados pelo próprio veículo como “O que a Folha pensa”, publicados entre março de 2020 e março de 2022, abrangendo diferentes fases da pandemia. A metodologia empregada foi a análise documental, e a contextualização e interpretação do corpus se deram à luz dos teóricos da Saúde Coletiva (Paim, 2008; Rodriguez Neto, 2019); Economia Política (Borón, 1999; Oliveira, 1999; Harvey, 2005); Economia Política da Saúde (Stuckler e Basu, 2014; Santos e Sulpino, 2018; Mendes e Carnut, 2022); e Economia Política da Comunicação (Lima, 2001; Moraes, 2013; Motter, 2019). No campo da Comunicação e Saúde, utilizamos o conceito de SUS Midiático (Machado, 2020), que argumenta que a imprensa influencia a opinião pública — na produção de sentidos — sobre o SUS. As ideias de Direito à Comunicação e Saúde (Stevanim e Murtinho, 2021) orientam esta dissertação, ao tratar da intersecção entre a democratização da comunicação e o direito à saúde. Os resultados apontam para o que denominamos SUS-necessário — os editores descrevem um sistema robusto, com estrutura sólida e acúmulo científico, mas necessariamente condicionado às medidas de austeridade. A FSP defendeu medidas de proteção social, como o auxílio emergencial, bem como orientações científicas para o controle da pandemia, mas sustentou a necessidade de garantir o equilíbrio fiscal e a “confiança” do mercado como prioridades. Concluímos que, mesmo em meio à crise sanitária, prevalece uma perspectiva empresarial da imprensa e seu alinhamento à lógica neoliberal.
Este trabalho é um estudo das campanhas de vacinação contra a Covid-19, realizado na rede social Instagram pelas prefeituras de Salvador e Rio de Janeiro, de julho a agosto de 2021. A pesquisa foca no entendimento de como ambas as gestões públicas utilizaram estratégias de comunicação e se posicionaram na rede social, considerando as nuances da plataforma e os diferentes públicos, separados por faixas etárias. A análise foi empreendida com o estudo dos seis posts selecionados, sob a ótica da Análise do Discurso de linha francesa (AD) e referencial teórico adotado. Além de discutir a importância do uso das redes sociais nas campanhas de imunização e da necessidade de aprimoramento, o trabalho suscita o debate sobre a falta de transparência sobre como operar os algoritmos nas mídias digitais e os desafios e ameaças que são impostas às campanhas de saúde pública. A pesquisa ainda propõe, em caráter complementar, um contraponto entre taxas de engajamento e qualidade de engajamento em redes sociais. Foi possível identificar o ethos e as estratégias discursivas adotadas pelas prefeituras, bem como reunir apontamentos e reflexões sobre a realização de campanhas de vacinação na rede social, em acordo com os princípios e diretrizes do SUS, bem como sugestões de mudança do escopo em investigações no âmbito da AD e da Comunicação e Saúde, e orientação das plataformas.
Nesta pesquisa, a informação e a comunicação são vistas em sua interface com a saúde e com as políticas públicas. Essa visão irá permear a investigação sobre as relações possíveis entre a atuação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) – incêndios em 2019 – e a reverberação desta na atuação da Organização não Governamental (ONG) Redes da Maré. Partindo da exigência de que a alimentação é um direito de todo cidadão brasileiro, estudar sobre um conselho que foi desfeito, mas que fomentou políticas públicas na área da alimentação, é importante para entender os efeitos dessa extensão na efetivação de tais políticas. Com essa perspectiva, o objetivo principal desta pesquisa é analisar o conteúdo apresentado nos relatórios anuais das Redes da Maré, entre os anos de 2017 e 2021, verificando as diferenças entre o período em que o Consea atuou e o que sucedeu a sua extinção. A pesquisa se apoia em multimétodos, o primeiro diz respeito a análise de conteúdo, já o segundo, baseia-se na análise da construção daqueles discursos pelas pistas deixadas em sua materialidade, e é orientada por Ginzburg (1989), que trata de um método reconhecido como indiciário, no qual o contexto histórico e a construção social são de grande valia para a construção de uma análise mais crítica e aprofundada do conteúdo produzido. Percebe-se que houve uma maior incidência dos assuntos relacionados à saúde e ao direito à alimentação entre os anos de 2019 e 2021, mas relacionados com os problemas enfrentados neste território e com um contexto de emergência sanitária ancorado pela pandemia de Covid-19.
Esta dissertação investiga as múltiplas experiências de infecção por HPV (papilomavírus humano), a partir de relatos presentes em um fórum de um aplicativo de monitoramento do ciclo menstrual chamado Flo. Cada vez mais os aplicativos de saúde ganham relevância na contemporaneidade, conformando novas práticas e conhecimentos a respeito da saúde, ao mesmo tempo em que são produtos da circulação de discursos e significados socioculturais. Nesse contexto, os objetivos foram, a partir do olhar privilegiado sobre as noções de doença, risco e gênero, identificar os discursos sobre HPV circulantes no fórum e os significados de estar com o vírus compartilhados nas conversas, discutindo ainda a relação entre as mediações dentro do aplicativo e o HPV. Na análise, optou-se pela etnografia digital como uma inspiração metodológica, com atenção a recorrências, temas, formas de interação, tons dos relatos e silêncios, adotando as emoções compartilhadas pelas mulheres como um fio condutor. Um dos principais resultados mostrou que o diagnóstico causa angústias profundas, marcadas por uma forte moralidade ligada a questões de gênero, reforçando a permanência de papéis tradicionais referentes à sexualidade nas novas gerações, o que impacta de forma contundente a maneira com que as mulheres lidam com os seus relacionamentos. Outro ponto de destaque são as concepções de risco e cuidado vigentes, nas quais a preocupação com a preservação de um certo lugar de "virtude moral" prepondera sobre os riscos da associação entre o vírus HPV e o câncer de colo do útero, o que contradiz as estratégias de campanhas de prevenção destinadas a essas mulheres. Compreender seus contextos e aflições é fundamental para o aprimoramento de políticas públicas direcionadas a esses segmentos.
Esta dissertação tem como foco as publicações preprints sobre a Covid-19, doença escolhida por ser atualmente um grave problema de saúde pública e em escala global. O estudo tem por objetivo apresentar um mapa sobre essas publicações, além de resgatar sua história, fato importante para que se possa compreender sua influência no uso dos preprints pela comunidade científica. Como ponto de partida, foi pesquisada a história da comunicação científica, e especificamente, a história dos preprints, por meio da revisão de literatura, e realizado mapeamento dos preprints. Os dados foram coletados por meio do SciELO Preprint, uma iniciativa brasileira pensada para comunicar a ciência de forma rápida e em acesso aberto. Por meio deste estudo foi possível apresentar os principais momentos históricos que revelaram como se configuraram a comunicação científica e os preprints no decorrer dos anos, as mudanças do fluxo da informação ao longo da história da comunicação científica, e o mapeamento de aspectos considerados relevantes para a pesquisa em relação às publicações em preprint relacionadas à Covid-19, no ano de 2020, tais como, pesquisadores que publicaram neste formato, suas instituições e sua localização geográfica e palavras-chave.
A emergência da pandemia da COVID-19 impôs um caráter de urgência ao acesso ao conhecimento produzido pela ciência. Principalmente aos dados que sustentam e validam as pesquisas, a fim de acelerar o tempo de resposta à crise sanitária e mitigar o sofrimento humano. A pandemia da COVID-19 foi articulada nesta dissertação como fator capaz de desencadear mudanças nos fluxos da comunicação científica, com potencial para estimular as ações de abertura na ciência e impulsionar a prática de compartilhamento de dados de pesquisa. Deste modo, buscou-se verificar se a pandemia influenciou os requisitos das agências de fomento estaduais brasileiras para a concessão do financiamento público das pesquisas sobre o tema, e a percepção e as práticas dos pesquisadores financiados pelas agências estaduais em relação ao compartilhamento. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter misto, com abordagem qualitativa e quantitativa. A metodologia foi amparada em revisão bibliográfica, pesquisa documental e empírica. Na pesquisa documental foram analisados, entre outros documentos, 26 editais de financiamento público para enfrentamento à COVID-19, lançados em 2020 e 2021. Na pesquisa empírica foi aplicado questionário eletrônico a 393 pesquisadores identificados na pesquisa documental. A amostra empírica final foi composta por 44 pesquisadores com atuação em variados campos do conhecimento. Verificou-se que a maioria das Fundações de Amparo à Pesquisa ainda não está alinhada às práticas da ciência aberta. Constatou se que a COVID-19 não constituiu um fator determinante para adoção do compartilhamento de dados como requisito exigido pelas agências para o financiamento das pesquisas sobre o tema no Brasil. No entanto, a pandemia mostrou-se um fator de forte influência na percepção e práticas dos pesquisadores investigados, pesando também o fator financiamento público. Identificou-se que a maioria dos pesquisadores reconhece a importância do compartilhamento dos dados de pesquisa, sobretudo diante de emergências em saúde, mostrando uma disposição favorável à realização da prática e ao uso de dados compartilhados, ainda que acompanhada de muitas dúvidas. Compreendeu-se com esta pesquisa que existem muitos passos a serem dados na direção da consolidação do compartilhamento no panorama científico nacional, carecendo de apropriação sobre o tema pelas agências de fomento, e o desenvolvimento de mecanismos para estimular, capacitar e recompensar os pesquisadores, que são os agentes fundamentais para a efetivação da prática. Desta forma, contribuindo para a geração de novos conhecimentos, para o avanço científico e o enfrentamento de problemas presentes e futuros de saúde pública e global.
Essa pesquisa teve como objetivo imprimir mais nitidez à compreensão dos movimentos sociais da saúde no que tange às suas configurações comunicacionais, tendo como foco os seus modos de apropriação das tecnologias digitais. O universo empírico da pesquisa incluiu o Movimento pela Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase e o movimento Nenhum Serviço de Saúde a Menos. Metodologicamente, lançamos mão das “Conversas” (ARAUJO, 2015) que, através de uma perspectiva epistemológica e política descolonial do conhecimento, consiste em um conjunto de aproximações sucessivas com os grupos participantes da pesquisa, que inclui conversas com militantes dos movimentos, cartografia compartilhada das práticas comunicacionais, assim como o compartilhamento das análises e resultados preliminares da pesquisa. Também foi feita uma análise de materiais dos movimentos a partir de esportes da Semiologia dos Discursos Sociais. Produzimos um mapa dos dispositivos de comunicação dos dois movimentos e uma linha do tempo do mais antigo, sendo possível observar quando, quais e como ocorrem mudanças em suas ações comunicacionais. Constamos que os movimentos sociais possuíram uma grande diversidade de tecnologias, materiais e estratégias comunicacionais para mediar suas lutas. Foi percebida uma hibridização midiática em suas ações, quando houve coexistência de diversas tecnologias e produtos em uma mesma ação e a circulação entre diferentes mídias. Os movimentos obtiveram grande criatividade em suas ações comunicacionais e produtos midiáticos, com nítida relação com a cultura local e em sintonia com os princípios do SUS. Foi possível concluir que as tecnologias digitais potencializam as possibilidades de luta dos movimentos sociais da saúde, embora não mudem os seus objetivos estratégicos; ampliamos o repertório de ações, mas não substituímos totalmente os anteriores; comentários para a formação e declarações dos movimentos, no entanto não são uma causa.
Esta pesquisa abordou a questão da produção do conhecimento em saúde, em publicações científicas e sua relação com as instituições hospitalares no Brasil. O estudo considera que a produção do conhecimento científico está implicada na produção da ciência em diversos tipos de veículos, incluindo a produção divulgada por jornais institucionais. Tem como objeto a publicação científica institucional do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), publicação periódica veiculada de 1949 a 2003, sob dois títulos, “Boletim do Centro de Estudos do HSE” e “Revista Médica do HSE”. O que impulsionou este estudo foi a seguinte introdução inicial: como se configurou o processo de produção do conhecimento científico contido na publicação institucional do Hospital Federal dos Servidores do Estado? O objetivo geral é investigar, a partir de um estudo métrico detalhado, a produção do conhecimento científico contido na publicação institucional do HFSE. A proposta metodológica pauta-se numa pesquisa exploratória exaustiva de caráter analítico-descritivo, com abordagem quantitativa, tendo enfoque em análise bibliométrica histórica, empregando também pesquisa bibliográfica, documental e empírica. Através dos resultados, pretende-se possibilitar a preservação documental da história e da memória científica contida na publicação da referida instituição hospitalar, por meio da análise e da guarda dos seus registros, bem como, a compreensão desta produção científica em saúde.
Esta dissertação problematiza as relações entre beleza, saúde e envelhecimento feminino na sociedade brasileira contemporânea, marcadas por intensos processos de (bio)medicalização. Para tensionar a naturalização desse elo, a beleza é entendida como tecnologia biopolítica que, a partir de diferentes interesses e atores envolvidos, pode acarretar discriminação e estratégias de controle social. Quando associado às prescrições antienvelhecimento, há o reforço, principalmente, do idadismo, associado à manutenção de papéis de gênero e do mercado consumidor da indústria da beleza. Em contrapartida, para fazer avançar uma comunicação para além da formação do consumidor público, a partir da manutenção de inseguranças femininas e da continuação da manutenção de interesses capitalistas e políticas neoliberais, assuma-se neste estudo a perspectiva da comunicação e saúde como direitos universais. Seu objeto empírico é formado por duas revistas de "imprensa feminina" voltadas para diferentes segmentos sociais, Ana Maria e Marie Claire. A análise comparativa de enunciados/enunciações baseia-se no conceito de contrato de leitura proposto pelo semiólogo, antropólogo e filósofo argentino Eliseo Verón, de forma a considerar as imagens projetadas das revistas e seus leitores, os vínculos e as relações propostas por cada publicação. Também levamos em consideração a configuração histórica e características atuais da “imprensa feminina”. Com esses esportes, foi analisado um conjunto de 30 edições publicadas entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. O período conjuga dois critérios: o calendário que orienta as publicações expostas para mulheres, marcado por lançamento de coleção de moda e produtos de beleza – no caso a de primavera/verão – e para que se pudesse analisar o período mais recente possível, antes do início da pandemia da COVID-19 Entre seus principais resultados, destaca-se que, embora a velhice esteja em constante discussão e que comporte a abordagem de aspectos positivos, prevalecendo o ocultamento das marcas do passar do tempo. Isso pode ser notado na antecipação do tema para mulheres cada vez mais jovens, como prevenção do envelhecimento, entendido como manutenção da beleza em aparências joviais. E, ainda, nos rostos lisos, sem rugas, mesmo em mulheres com mais de 40 anos, nas duas publicações. Ana Maria, investe na biomedicalização da alimentação, direcionada para mulheres circunscritas ao âmbito doméstico, familiar e televisivo. Marie Claire assume determinadas pautas feministas, como a diversidade de orientação sexual e defesa de direitos, anguladas para o sucesso profissional e autonomia individual de mulheres sofisticadas e cosmopolitas. Essa invisibilidade do rosto feminino que envelhece nas duas revistas, nos faz perguntar o quão envelhecer é realmente aceito, nos dias de hoje.
O presente estudo teve como objetivo investigar as orientações dos financiadores da pesquisa para gestão de dados produzidos no contexto de colaboração científica internacional no campo da saúde. A metodologia consistiu na pesquisa bibliográfica em fontes de informação nacionais e internacionais que apresentou as bases teóricas da pesquisa e permitiu identificar o National Institutes of Health e a European Commission como os principais financiadores mundiais da pesquisa em saúde. Utilizou uma pesquisa documental para mapear e analisar os documentos normativos emitidos pelos financiadores com políticas para gestão de dados de pesquisa em saúde. A análise dos documentos baseia-se numa estrutura de avaliação de políticas de dados que contempla as categorias grau de aplicação do documento e cobertura de critérios. Identificou-se que ambos os financiadores possuem políticas recomendadas para gestão de dados como também compulsórias que se não atendidas podem impedir a concessão de financiamento. Verificou-se que dentre os critérios contemplados na estrutura de avaliação, o NIH e a CE abordaram totalmente os critérios de escopo, monitoramento de conformidade e avaliação, suporte, repositórios e centros de dados, custo, compartilhamento e acesso e questões éticas relacionadas aos dados de pesquisa. Constatou-se que os financiadores autorizaram que algumas questões relativas à gestão dos dados requerem negociação e construção de acordos entre os parceiros antes do início de um projeto colaborativo. Verificou-se a existência de orientações para gestão de dados produzidos em contextos colaborativos, sem, no entanto, ser possível verificar se eram aplicadas igualmente em colaborações internacionais. Conclui-se que lacunas de normativas para gestão de dados produzidos nesses contextos podem provocar confrontos normativos, uma vez que possivelmente os pesquisadores participantes dessas colaborações resgatarão suas normas nacionais e institucionais para sustentar a realização da pesquisa. Constatou-se ainda que na perspectiva das políticas dos financiadores a maior parte das responsabilidades com as questões relacionadas à gestão dos dados gerados na investigação centraliza-se na figura do coordenador do projeto, mesmo a pesquisa sendo realizada pelo trabalho colaborativo entre pesquisadores.
Este trabalho buscou conhecer sentidos e dinâmicas de visibilidade de mortes por violência em contextos de disputas por terra no campo a partir do evento que ficou conhecido como Massacre ou Chacina de Pau d’Arco, tendo como espaço privilegiado de análise o discurso midiático. Em um primeiro momento, foi realizado um levantamento de materiais veiculados em dois espaços de relevância, TV e Internet. Este levantamento possibilitou identificar que atores sociais produziram/agenciaram discursos sobre o tema. Tendo como intuito compreender que narrativas foram construídas e como, no segundo momento da análise procurou observar que atores sociais produziram discursos sobre o acontecimento e a partir de quais estratégias discursivas, tendo em vista as nomeações, as fontes, os elementos associados e as formas como sujeitos foram referenciados, à luz de teorias do discurso e da linguagem. Foram analisadas matérias de telejornalismo do Jornal Nacional e do Jornal Liberal, correspondendo a áreas de abrangência nacional e local, respectivamente, e de vídeos encontrados no Youtube. A análise identificou um conjunto diverso de atores de enunciações sobre o evento que englobava grupos e instituições tais como: mídia corporativa, mídia alternativa, setores de ativismo e movimento social, representantes do legislativo e indivíduos variados. A despeito desta pluralidade ser uma característica importante dos resultados de pesquisa, a presença desses atores não se deu de modo equivalente. O jornalismo da mídia corporativa coloniza as enunciações sobre o acontecimento, pois o mesmo predomina no levantamento realizado no Youtube. O predomínio do telejornalismo dessas mídias está relacionado a convergência midiática, com a presença tanto de materiais de novas mídias, como de mídias tradicionais, habitando um mesmo ambiente Diferentes narrativas para as mortes foram construídas por esses atores, ora como confronto, ora como chacina, massacre e/ou execução. As versões adotadas expressaram/relacionaram um maior ou menor grau de responsabilização e criminalização, tendo em vista que as pessoas envolvidas no acontecimento foram reconhecidas e posicionadas de distintos modos. O estatuto de vítima dos trabalhadores que foram mortos, bem como a forma como estes foram nomeados, os elementos que compuseram os discursos e as fontes que participaram destes, variaram de acordo com os atores da enunciação. As produções da mídia corporativa, tanto nos telejornais quanto no Youtube, direcionam principalmente para uma compreensão ambígua com relação ao acontecido. Atores políticos e alguns usuários com posições ideológicas conservadoras, à direita, reiteraram a versão de confronto. Já as narrativas em que o acontecimento foi apontado como como massacre, chacina, execução foram construídas e sustentadas por movimentos sociais, ativistas, pela mídia alternativa e por alguns usuários. As maneiras como acontecimento foi considerado se diferenciam tanto pelos espaços de produção discursiva dos materiais, quanto por posições políticas destes atores.
A biomedicina tem se ocupado cada vez mais das questões da vida humana que não eram vistas como problema de saúde até então. Nesse processo, dificuldades relacionadas com a aprendizagem e com o domínio das normas da linguagem passaram a serem classificadas como “dislexia” pela biomedicina. Nos dias de hoje as pessoas têm buscado cada vez mais espaços on-line para procurar informações e se conectar com outros indivíduos que compartilham da mesma condição de saúde ou doença. O objetivo da presente dissertação é analisar a experiência de sujeitos denominados como disléxicos ou que se aproximam desse diagnóstico que frequentam a comunidade virtual “amigosedislexia.com”. Discutimos nessa dissertação em que medida a experiência com a dislexia, vivenciada nesse ambiente virtual, pode estar ou não ancorada na construção de “bioidentidades”, isto é, em uma sociabilidade orientada a partir de critérios de saúde. Metodologicamente esse trabalho baseou-se na abordagem qualitativa. Foi realizado um estudo exploratório utilizando uma análise de conteúdo temática. Foram classificadas e analisadas as postagens dos “influenciadores digitais”. Esta pesquisa permitiu identificar quatro perfis de comunicação presentes na comunidade virtual analisada, a saber: o acolhedor, poster cidadão, clínico/especialista e alteridade. Os “influenciadores digitais” atuaram na circulação das informações, construíram novos significados e negociaram sentidos com os saberes biomédicos e educacionais a partir das suas experiências e dificuldades de aprendizagem. Para eles o consumo do saber biomédico representou um meio de lidar e buscar respostas para suas dificuldades. Foi possível observar que os “influenciadores digitais” desconsideravam a denominação de “doença” para dislexia, preferindo utilizar o termo “transtorno” e a ideia da “diferença”. Tal fato não exclui características medicalizantes das postagens nesse ambiente virtual. Essa dissertação visou contribuir com o debate acadêmico sobre esse tema, sem pretender fechar debates ou esgotar outras possibilidades de análise e discussão.
A introdução da terapia antirretroviral de alta atividade (TARV), proporcionou às pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA), uma redução significativa na ocorrência de infecções oportunistas, tornando a doença um quadro crônico e controlável, e concedendo maior qualidade de vida a esses indivíduos. No entanto, o estado nutricional que antes era caracterizado por perda de peso e desnutrição, atualmente, apresenta-se em transição. O presente estudo objetivou avaliar o consumo alimentar das PVHA e encontrar relações deste com a características socioeconômicas dessa população. Entre os 69 pacientes entrevistados, encontrou-se média de idade de 45,92 (±10,32) anos e a maioria de homens. Quanto a análise de consumo alimentar, encontrou-se consumo insatisfatório de frutas, consumo diário de vegetais A, B e C em pelo menos uma refeição, bem como o consumo de leite e seus derivados. Há a ampla ingestão de arroz, feijão e pão francês, além de consumo de carne de frango como principal fonte proteica. Observou-se ainda, com o auxílio da Análise de Correspondência Múltipla, a formação de clusters que revelam a existência de três perfis alimentares, denominados neste estudo “alimentação rápida”, “tradicional” e “trivial”, este último, sendo o de maior silhueta. Tais achados permitem entender melhor a heterogeneidade que compõe o comportamento alimentar dessa população específica e, assim, dão mais base a elaboração de estratégias de diálogo para educação alimentar e nutricional das PVHA.
Este trabalho busca compreender como o Fantástico, programa telejornalístico da Rede Globo, apresentou os riscos de zika e microcefalia para a sua audiência, desde a descoberta da doença no Nordeste, passando por uma epidemia nacional até a emergência internacional. A análise foi orientada pelos conceitos de risco e vítima virtual (VAZ,2009), utilizando os principais operadores de modos de endereçamento, propostos por Gomes (2011). As matérias veiculadas em quatro anos, entre abril de 2015 e abril de 2018, respondem pelo nosso corpus ampliado e as reportagens exibidas durante as emergências, de 11 de novembro de 2015 a 11 de maio de 2017, formam o corpus reduzido. Observamos, em primeiro lugar, o pouco espaço dedicado ao tema. Entre os resultados, de abril de 2015 a julho de 2018 foram veiculadas 20 matérias, totalizando 1 hora e 55 minutos. Em seguida, o destaque dado aos cientistas, às mulheres grávidas e ao mosquito Aedes aegypti. Esses foram os grandes protagonistas das reportagens sobre zika, mas desempenhando papéis diferentes. Os primeiros, fontes de autoridade e esperança; o último, apresentado como inimigo a ser combatido. Entre eles, e no centro da emergência, estavam as mulheres, principalmente as grávidas e as com planos de gravidez. No entanto, apesar de sua abrangência nacional, Fantástico privilegiou uma camada específica da população feminina brasileira: a classe médi1a, branca, moradora do Sudeste do país. Essa característica fala tanto do público imaginado pelo Fantástico, como da figura da vítima virtual. A cobertura de uma doença que teve início no Nordeste, afetando principalmente mulheres pobres e moradoras de áreas sem infraestrutura e saneamento básico adequados, foi protagonizada no \201Cshow da vida\201D quase que inteiramente por um grupo que não representa as mulheres mais vulneráveis a esta e outras arboviroses. Nessa guerra contra o Aedes, a responsabilização individual aparece em primeiro plano, em detrimento ao papel do Estado na garantia dos direitos e políticas públicas relacionadas ao zika vírus. Concluímos que a mulher, principalmente as mais vulneráveis, como é comum na sociedade brasileira, esteve na linha de frente da epidemia, sem contar com apoio e políticas públicas, tanto para efetivar medidas de proteção contra a infecção quanto para cuidar de bebês que nasceram com microcefalia, e que a forma como as matérias foram produzidas não questiona, ao contrário, legitima essa condição.
Este trabalho aborda as articulações entre as desigualdades sociais, a epidemia desíndrome congênita do zika vírus, as responsabilidades pelo cuidado dos bebês nascido neste contexto e acomunicação. Tendo como referência a produção social dos sentidos, buscaresponder como asproduções noticiosas do Jornal Nacional (JN), da TV Globo,e o Repórter Brasil (RB), da TV Brasil,conjugaram as relações entre as desigualdades sociais \2013 em especial, as de gênero, raça, classe e território \2013 que marcam a epidemia de zika no Brasil e a responsabilidade pelos cuidados dos bebês afetados pela síndrome da zika congênita. Propomos uma discussão teórica sobre determinação social da saúde, desigualdades, e as interlocuções entre o direito à comunicação e o direito à saúde. As matérias veiculadas durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional respondem por nosso corpus ampliado e as séries especiais que os telejornais dedicaram à epidemia, em 2016, formam o corpus reduzido da análise. Entrevistas com profissionais que participaram da cobertura foram o outro procedimento metodológico adotado. Entre os resultados, destacamos a conclusão de que as desigualdades sociais, mesmo quando abordadas, não têm destaque na cadeia causal da epidemia, favorecendo sua invisibilidade e enfraquecendo as políticas públicas de cuidado dos bebês nascidos com a síndrome congênita. De formas e em medidas diferentes, tanto o telejornal comercial quanto o telejornal da TV pública do país fazem isso. Concluímos que a produção noticiosa estudada não propôs alteração no posicionamento das mulheres frente à epidemia. Mesmo quando reconhecidas como vítimas, e mesmo quando protagonistas, as mulheres \2013 principalmente as pobres, negras e nordestinas \2013 continuam a responder pelos muitos cuidados que os bebês com síndrome congênita do zikavírus necessitam e deveriam ter garantido o direito de receber.
Esta dissertação teve como objetivo traçar o perfil da produção científica dos pesquisadores do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), com o intuito de discutir subsídios para formulação de políticas para o povoamento de seu respectivo repositório institucional (RI). Este instituto, vinculado ao Ministério da Saúde, é centro de referência na promoção da saúde cardiovascular e está ancorado em três eixos: assistência, ensino e pesquisa, tendo como missão formar profissionais, desenvolver e disseminar conhecimentos e tecnologias, com excelência na assistência, ensino e pesquisa, promovendo assim o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Atento à sua missão, e abraçando o Movimento do Acesso Livre à Informação Científica, o INC lançou seu RI em 2015, e, atualmente, se coloca o desafio de propor políticas institucionais para seu fortalecimento. Nesse sentido, a presente pesquisa se propõe a identificar e analisar a produção bibliográfica de seus profissionais, mais especificamente, os artigos completos publicados por seus mestres e doutores em periódicos científicos, tendo como fonte o CV Lattes. Os dados foram compilados a partir da ferramenta ScriptLattes, identificando os títulos e perfil dos periódicos que acolhem o núcleo de suas produções, procurando identificar aqueles de livre acesso. Utilizou-se a plataforma Ulrichs Global Serials Directory para buscar dados detalhados sobre os 321 periódicos assim identificados. Para a análise e categorização dos periódicos e posterior formulação do perfil dos pesquisadores do INC fezse uso do sistema do SHERPA/RoMEO para identificar as políticas de copyright e de auto-arquivo dos periódicos, e consequentes autorizações que são dadas pelos mesmos. Por fim, a análise do perfil de produção dos pesquisadores do INC, à luz da cultura epistêmica do instituto, permitiu indicar alguns subsídios para a formulação de uma política de fortalecimento do RI do INC.
Esta dissertação tem o intuito de fazer, de maneira pioneira, um estudo exploratório do uso das mídias sociais por Hospitais de Alta Complexidade em todas as regiões do Brasil. A amostra analisada foi de 21 hospitais de todas as regiões do Brasil, divididos entre Privados, Públicos e Filantrópicos, durante 1 ano, de 01 de dezembro 2017 a 01 de dezembro de 2018. Em termos metodológicos, optou-se pelo cruzamento de dados entre uma tabela webométricas e dados disponibilizados pelo CNES. Para a análise, utilizou-se a ferramenta Fanpage Karma. Como resultado, observou-se a diferença entre hospitais de diferentes regiões e diferentes tipos de gestões. Nota-se também a diferença de atuação de cada instituição em diferentes mídias sociais. Por isso, no projeto são criado tabelas que abordam fatores como engajamento, taxa de crescimento, valor investido dentre outros indicadores, em Facebook, Instagram e LinkedIn. Dessa forma, é possível explorar o contexto dos hospitais brasileiros em três das maiores plataformas sociais de todo o mundo.
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. O campo de pesquisa de estudos de informação e saúde tem uma forte tradição no Brasil e no que se refere à busca de informação também há inúmeros estudos que visam identificar hábitos de obtenção de informação em saúde. No entanto, ainda são raras as análises que visem identificar as principais fontes de informação em saúde usadas pelos diferentes segmentos da população brasileira, principalmente quando a necessidade de informação está ligada a um agravo e ao paciente buscador. O que já se sabe é que existe uma relação entre tipos de fontes de informação utilizadas e o perfil socioeconômico e demográfico, e isso pode ser importante para determinar quais fontes e tipologias de informação são mais efetivas do que outras nas estratégias de promoção de saúde. Cabe, portanto, perguntar, dada uma ampla oferta de veículos de informação, quais são as principais fontes de informação em saúde usadas por um determinado perfil de usuários? Sendo assim, esta dissertação propôs-se a identificar e caracterizar a produção científica no cenário nacional e internacional que discutissem sobre hábitos de busca de informação por mulheres com câncer de mama e quais fontes de informação são utilizadas para se informar sobre os cuidados durante o tratamento da doença. Para alcançar este objetivo, foram realizadas buscas em bases de dados nacionais e internacionais, sendo uma multidisciplinar, duas da área de ciência da informação e uma da ciências da saúde, complementadas com busca livre com motores de busca.
O câncer de mama é o tipo de câncer com a segunda maior incidência no Brasil, atrás do câncer de pele não melanoma. É a principal causa de morte por câncer na população feminina na maioria das regiões do país, com destaque para as regiões Sudeste e Sul. No município do Rio de Janeiro, a estimativa da taxa bruta de incidência para câncer de mama feminina é de 130 por 100 mil habitantes em 2023, a maior entre todas as capitais do país. Para o Sistema Único de Saúde (SUS), a indicação é de que a mamografia de rastreio seja realizada a cada dois anos para mulheres de 50 a 69 anos e para a mamografia diagnóstica, mulheres com sinais e sintomas suspeitos para esse tipo de neoplasia, independente da idade. Um diagnóstico em tempo oportuno possibilita maior sobrevida e menor morbidade, porém condições socioeconômicas, comunicacionais, geográficas, bem como questões de emergência em saúde pública podem trazer barreiras à descoberta precoce de doenças, em especial das neoplasias. Esta pesquisa analisa as desigualdades nas solicitações de mamografia por meio do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) no município do Rio de Janeiro e seus determinantes, como o impacto de campanhas, da infraestrutura do sistema de saúde primária, e o efeito da pandemia da Covid19 no represamento dessas solicitações. O estudo adota uma abordagem quantitativa exploratória e analisa dados de solicitações de mamografia (diagnóstica e de rastreamento). Foram comparados os volumes de solicitações nos períodos pré-pandêmico (2018-2019) e pandêmico (2020-2022) da Covid-19. No período analisado, foram registradas 436.036 solicitações de mamografia no SISREG, com a maior parte das solicitações concentrada na faixa etária de aproximadamente 50 a 70 anos Destaca-se o baixo volume de mamografias solicitadas, considerando que apenas para a mamografia de rastreamento seria necessário realizar cerca de 400.000 exames por ano no município. Observou-se uma queda significativa nas solicitações de mamografias durante os picos de casos e óbitos por Covid-19. Foi possível identificar também que as áreas com maior cobertura de Estratégia de Saúde da Família (ESF) tendem a apresentar maiores taxas de solicitação de mamografia, bem como os meses de outubro se destacam por terem os maiores volumes a cada ano. A pesquisa evidencia a importância do planejamento de serviços com base na análise espacial da rede de saúde a partir das estimativas populacionais e características do território, bem como a relevância do SISREG como ferramenta de gestão e monitoramento da saúde pública, sugerindo melhorias nas práticas de rastreamento e na gestão de recursos de saúde.
Esta pesquisa busca analisar como o jornal centenário O Estado de S. Paulo noticiou as pandemias de gripe espanhola, em 1918, e de covid-19, em 2020, e procura identificar as aproximações e as diferenças que emergem nos discursos das coberturas jornalísticas. Com foco na historicidade dos processos comunicacionais, o objetivo é identificar e compreender os sentidos que, ao longo do tempo, surgem sobre as duas doenças, a partir de algumas publicações do veículo. Assim, este estudo apresenta como hipótese inicial a perspectiva de que os discursos sobre as duas pandemias seriam similares, apesar da diferença temporal entre as enfermidades ser de pouco mais de um século. Levando-se em consideração contextos distintos, a principal pergunta que se buscou responder foi como o jornal O Estado de S. Paulo fez a cobertura jornalística das duas pandemias. Após levantamento do material no acervo do periódico, foram selecionados cinco momentos específicos, nos primeiros meses das duas doenças no Brasil, que ganharam espaço nas páginas do jornal (e na mídia em geral), e realizadas análises dessas coberturas. Para dialogar neste estudo, “convidamos” os autores Michel Foucault, Mikhail Bakhtin, Milton Pinto e Norman Fairclough, quando os temas trabalhados envolvem discurso, linguagem e relações de poder. Ana Paula Ribeiro, François Dosse, Marialva Barbosa, Maurice Halbwachs e Pierre Nora são acionados quando o debate abrange memória, história e comunicação, três áreas interrelacionadas nesta pesquisa. A partir dos conceitos trabalhados no referencial teórico, e após o olhar atento sobre o material jornalístico publicado pelo O Estado de S. Paulo, conclui-se que os discursos sobre a gripe espanhola e a covid-19 se assemelham em muitos aspectos, assim como os sentidos identificáveis A minimização e a negação das duas doenças, por exemplo, ocorrem nas páginas do periódico em 1918 e 2020, mas somente no começo da chegada das pandemias ao país porque, em poucas semanas, a realidade se impõe: a gravidade de ambas as enfermidades fica explícita, tanto no início do século passado, quando o jornal quase fechou por causa da gripe espanhola, quanto no primeiro ano da covid-19 no Brasil.
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção científica sobre a pandemia de COVID-19 nas favelas e comunidades urbanas do Brasil. Busca identificar globalmente o mapeamento de coautorias, instituições, países e palavras-chave relacionadas ao tema, além de analisar a evolução dos tópicos para identificar mudanças e possibilidades de continuidade dos estudos ao longo do tempo. A metodologia utilizada é uma pesquisa bibliométrica, de caráter exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa. As publicações científicas comprovadas foram recuperadas a partir de pesquisas nas bases de dados SciELO, Web of Science e SCOPUS. O estudo apresenta construções teóricas sobre os conceitos, desafios e perspectivas em saúde durante a pandemia de COVID-19 no mundo e no Brasil. Aborda também sobre as favelas e comunidades urbanas do Brasil, discutindo a formação desses espaços e territórios e reflete sobre a crise sanitária provocada pelo coronavírus nessas comunidades. Os resultados mostram que a comunidade científica é atuosa de forma colaborativa e focada em questões específicas de saúde e em temas mais complexos no contexto pandêmico. No entanto, a produção científica relacionada sobre a temática ainda necessita de mais investigações por parte dos investigadores. As publicações revelam tendências de assuntos que evoluíram em conformidade com a pandemia avançando, destacando que a saúde das populações faveladas e de comunidades urbanas foi negligenciada, o que aumentou as desigualdades existentes e gerou novas, com impactos drásticos para a saúde e o bem-estar dessas vidas Por fim, a pesquisa indica a necessidade de investimentos contínuos em pesquisas e políticas públicas voltadas para a saúde, prevenção e bem-estar das populações afetadas, sendo elas pertencentes às favelas e comunidades urbanas dos nossos “Brasis”, não apenas em situações de crise sanitária, para assegurar e garantir os direitos previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988.
O contexto brasileiro carrega marcas do escravismo ainda não superado e contribui para a perpetuação das relações assimétricas, produzindo uma sociedade acentuadamente desigual. Pensando nas ramificações que a desigualdade assume, à luz da dimensão da saúde, o presente trabalho explorou quatro aspectos fundamentais: (i) como as desigualdades se expressam através das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP); (ii) a importância da informação em saúde para o enfrentamento das desigualdades; (iii) a relação entre raça e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, e; (iv) situação geográfica que informa onde se concentram as desigualdades mais expressivas que se desenvolvem no campo da saúde que contemplam a linha investigativa da pesquisa. O estudo foi desenvolvido a partir das seguintes metodologias: (i) Revisão Bibliográfica sobre raça e saúde, ICSAP por raça/cor, vulnerabilidades sociais e desigualdades; (ii) Análise da informação sobre raça nos sistemas de informações em saúde; e (iii) Análise das desigualdades raciais e espaciais expressas através das ICSAP com dados dos sistemas de informação em saúde. Para isso, o trabalho contará com a análise dos anos de 2010, 2016 e 2022 para investigar a evolução da aplicação do indicador acima expresso a partir do atributo raça/cor, se amparando no uso do QGis (software livre) e obtendo como resultado final, a elaboração de mapas para registrar a distribuição das ICSAP nos municípios brasileiros. A escolha dos anos anteriormente citados foi realizada levando-se em conta a informação usada para Densidade Racial (Censo Demográfico 2010), a partir da avaliação de todo o período até o ano com as últimas informações disponíveis quando a dissertação estava sendo elaborada (2022) Para avaliar as tendências no período, houve a inclusão do ano intermediário (2016). Destaca-se neste âmbito a discussão sobre como as ICSAP se relacionam a diferentes concentrações da população por cor/raça nos municípios brasileiros, expressas pela densidade racial, além da qualidade da informação sobre cor/raça no Sistema de Informações Hospitalares (SIH). Por último, a pesquisa destaca as ICSAP como expressões das desigualdades sociais, raciais e espaciais, contribui para a qualidade da informação em saúde através da melhoria do preenchimento da variável de raça/cor nos sistemas de informação em saúde.
A pandemia de Covid-19 trouxe a ciência para o foco de todas as conversas e veículos de comunicação. Em um momento em que a ciência desempenhava papel crucial na busca de informações e compreensão sobre a doença, processos científicos foram evidenciados e as divergências de opinião e pesquisas refutadas movimentaram bastante a sociedade gerando um impacto misto na percepção pública da ciência, destacando tanto sua importância quanto suas limitações e desafios. Quando se trata de populações vulnerabilizadas, diante de uma emergência sanitária, as inequidades e disparidades ficam muito mais evidentes. Como essas comunidades são invisibilizadas e negligenciadas pelas prefeituras, as organizações não governamentais locais buscam apoio e formas de amenizar a situação da comunidade. Diversas organizações e coletivos se mobilizaram para informar e comunicar de forma clara e objetiva a população, auxiliando e orientando os moradores em diversas questões sociais e de saúde, conseguindo parcerias para o enfrentamento da pandemia. Diante disto, este trabalho teve como objetivo analisar a percepção da ciência no Complexo da Maré, buscando identificar se/e de que forma a divulgação científica realizada na comunidade gerou impacto nessa percepção e no engajamento em pesquisa científica. A metodologia envolve pesquisa exploratória quantiqualitativa na comunidade, com a amostra de participantes escolhida por conveniência. Os participantes demonstraram otimismo em relação a ciência, confiando em médicos e cientistas. As conclusões ressaltam a importância da divulgação científica acessível em comunidades vulneráveis, através de estratégias mais eficazes de comunicação e esforços contínuos para estreitar a relação entre a comunidade científica e a sociedade A pesquisa contribui para o entendimento da percepção pública de ciência, evidenciando a eficácia da divulgação científica na promoção do engajamento comunitário em pesquisas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), o grande volume de informações on-line favorece a desinformação, podendo multiplicar-se exponencialmente em pouco tempo, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Nesse sentido, enfrentar os desafios do excesso de informação na internet torna iminente o desenvolvimento de políticas que promovam habilidades individuais e coletivas para tomada de decisão, principalmente, quando mais se precisa. Dentro deste cenário, temos a Literacia Digital em Saúde (eHealth Literacy), como um dos instrumentos fundamentais nesse aperfeiçoamento. E, o objetivo desta dissertação foi identificar as práticas de consumo virtual de informação e desinformação em saúde, em um público maior de 18 anos, com acesso às redes sociais, bem como avaliar os níveis de Literacia Digital em Saúde (LDS) desta população e sua associação com características sociodemográficas. Para isso, foi feito um estudo transversal, descritivo, com aplicação de questionário em formato online. Os resultados revelaram que no quesito informação, uso e consumo, via Internet, a maioria dos respondentes tem conhecimento quando o assunto é desinformação e fake news (notícias falsas). Da mesma forma, 78,1% disseram buscar informações em sites oficiais de saúde pública. Entretanto, a pesquisa sugere a existência de disparidades importantes, revelando que os determinantes sociais contribuem na forma como se dará o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Assim sendo, em relação à cor da pele, ao comparamos esta característica com os níveis de literacia digital pudemos constatar que o grupo significativamente com maior pontuação foram os de pele de cor branca, totalizando 79,0% nesta categoria Além disso, tivemos associação positiva entre os níveis de literacia digital e a renda, com uma tendência de aumento na classificação dos níveis de LDS, à medida que a renda dos participantes aumentava.
A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro contato com o sistema nacional de saúde e a primeira etapa em uma construção contínua de atenção. A APS está embasada em um cuidado à saúde preventivo, integral, que enfatiza que a atenção do profissional de saúde esteja mais próxima do ambiente sociocultural dos indivíduos e famílias para a prevenção e o controle do adoecimento. Nesse contexto, a Prática Baseada em Evidências (PBE) se faz essencial, uma vez que tem como definição a utilização da melhor evidência científica para auxiliar na tomada de decisão clínica, possibilitando um atendimento eficaz de acordo com a necessidade do usuário e/ou de sua comunidade. Pesquisas recentes têm reconhecido a importância da PBE na APS e, consequentemente, no sistema de saúde, mas poucos estudos abordam a PBE nesse contexto. Frente a essa lacuna na literatura brasileira, este estudo tem como objetivo analisar o uso da PBE por profissionais de saúde que atuam no contexto da APS, realizando um estudo de caso em quatro Unidades Básicas de Saúde localizadas no município do Rio de Janeiro, RJ, por meio de um questionário que conta com 38 perguntas, divididas em cinco partes, a saber: Perfil profissional e sociodemográfico; Prática profissional; Prática Baseada em Evidências; Atitudes relacionadas à Prática Baseada em Evidências; Conhecimentos e habilidades da Prática Baseada em Evidências. Conclui-se que os profissionais de saúde reconhecem a relevância da PBE no âmbito da atenção primária em suas unidades, no entanto tais práticas são realizadas, na maioria das vezes, pelos Protocolos/Guias do MS, somadas a uso de evidências de acordo com a habilidades/ treinamento de cada um. Muitos dos profissionais não utilizam as terminologias oriundas da PBE, apesar de estarem próximos de suas premissas em suas ações diárias, o que demonstra que os participantes têm potencial para aderir a este resolutivo referencial para sua ação, mas ainda não possuem conhecimento a respeito de seus preceitos metodológicos.
A cobertura jornalística da Covid-19 foi concentrada, em grande parte, na divulgação de dados quantitativos, mais especificamente epidemiológicos, que colaboraram para o conhecimento e conscientização do andamento da pandemia e seu enfrentamento a partir do ano de 2020. O presente estudo buscou conhecer algumas das possibilidades que foram exploradas na produção jornalística relacionada à sua disponibilização e publicização, a partir de uma perspectiva advinda do jornalismo de dados. Nesse sentido, adotando-se metodologias exploratórias e analíticas, incluindo uma proposta de análise de conteúdo e exploração documental, analisou-se parte desse processo de reunião, análise e visualização dos dados relativos à Covid-19 no Brasil, considerando-se que durante esse período a sociedade e todas as esferas públicas relacionadas à comunicação e informação foram impactadas por processos de necropolítica, negacionismo científico e ataques ao Sistema Único de Saúde (SUS). Foram estudadas iniciativas como painéis epidemiológicos independentes e o consórcio de veículos brasileiros de imprensa, que surgiram em momentos de indisponibilidade de dados e informação pública confiável. Dois veículos desse grupo, os Portais G1 e UOL, no período de julho de 2020 e abril de 2021, tiveram matérias analisadas para se compreender mais sobre esses atores e as características de como esses dados foram apresentados ao público. Discutiremos os resultados, implicações, limites e desafios dessa comunicação baseada em dados no contexto das disputas informacionais e políticas mencionadas, buscando-se uma compreensão do assunto à luz de conceitos do direito à informação, à comunicação e à saúde.
Este trabalho se propõe a discutir quais as influências que o ativismo e o ciberativismo podem exercer nas micropolíticas, como a aprovação de leis e implementação de políticas públicas. Neste caso, estudamos a crescente disputa de narrativas das mulheres na internet, promovendo articulação e estratégias para avançar nos direitos da Saúde da Mulher. O grupo escolhido foi o movimento de doulas do Estado do Rio de Janeiro, que conseguiu coadunar as lutas nas redes e “nas ruas”, aprovando a Lei das Doulas. Observou-se assim, que o ciberfeminismo pode se tornar uma estratégia de articulação dos movimentos feministas, que buscam conquistas no âmbito dos direitos das mulheres.
Esta dissertação tem como propósito analisar os fluxos dos discursos produzidos por um grupo brasileiro, antivacinação, em uma rede social online, o Facebook, examinando de que forma tais enunciados dialogam com os discursos sobre imunizações e produtos interdiscursos que estão imersos em nossa prática social discursiva . Pretendemos compreender em que medida a nossa sociedade, ao assumir características neoliberais, marcadas pela lógica da responsabilização individual, do autocuidado e do risco, tornando-se mais sensível e aderente (ou não) às políticas públicas de saúde. Para isso, analisamos as 10 postagens mais curtidas e comentadas (durante o período de um ano \2013 abril de 2016 a abril de 2017) do grupo \201CO lado obscuro das vacinas\201D, utilizando a ferramenta Netvizz, aplicativo gratuito e colaborativo do próprio Facebook. Esse trabalho analítico propõe a articulação dos conceitos de governamentalidade; biopolítica e biopoder; risco; além dos estudos sobre construção das identidades, proposta por Hall, e sobre o sujeito contemporâneo, proposto por Giddens e Bauman. A estratégia metodológica, portanto, baseia-se na análise dos fluxos dos discursos à luz do pensamento foucaultiano, com contribuições sobre o conceito de risco trazido por Lupton, Rose e Beck Nossas análises nos mostram que o tema da (anti)vacinação está inserido na relação entre o indivíduo e o coletivo, entre o público e o privado; tensão essa atravessada, na contemporaneidade, por uma falta de confiança nas representações de autoridade: nos governantes, nas instituições, na grande mídia, nas recomendações médicas, na indústria farmacêutica. Este debate trata, portanto, da perspectiva das práticas e lógicas que regem a sociedade contemporânea, da produção dos sujeitos e, sobretudo, das identidades que os discursos constroem a partir de si mesmos, pois são por excelência fundantes. Com isso, contribuímos para a reflexão sobre como as redes sociais deslocam as formas tradicionais de se pensar a comunicação, uma vez que funcionam não apenas como alternativa para a divulgação de informações oficiais ou não, mas também como lugar de compartilhamento de angústias, medos , riscos e ideias, espaço propício à interação, ao autocuidado, à autoajuda e à mobilização social, estimulando debates livres de territórios físicos, sem exposição da face, com expressivo alcance e baixo investimento. E isso pode fazer compensar as estratégias de comunicação empregadas,sobretudo no campo da Comunicação e Saúde.
A variação regional possibilita a análise das regiões de saúde e a percepção da variação injustificada, que demonstra uma sobreutilização ou subutilização do sistema, acarretando um desperdício ou dificuldade de acesso dos cidadãos, respectivamente. Características socioeconômicas e demográficas, como IDH, cobertura de saúde suplementar e densidade demográfica; estruturais, como médicos cardiologistas, leitos e unidades hospitalares; e geográficas, como a distância percorrida para realização do procedimento e o fato do procedimento ser realizado fora ou dentro da região, auxiliaram nas análises das regiões de saúde. Foram geradas tabelas, gráficos e mapas para melhor elucidar as informações dos sistemas oficiais de informação, disponíveis para acesso público no DATASUS, IBGE e PROADESS. Conclui-se que as regiões de saúde, mesmo sendo existentes com o intuito de organizar o território e provar serviços e equipamentos dantes impossíveis para alguns municípios isoladamente, não estão conseguindo cumprir o papel na atenção cirúrgica às doenças cardiovasculares. Foi observada uma variação significativa regional, com algumas regiões realizadas quase 50 vezes mais angioplastias que outras e cerca de 30 vezes mais revascularizações do miocárdio. Grande parte das regiões de saúde não realiza esses procedimentos, tendo seus cidadãos que os procedimentos em outra região de saúde realizam, percorrendo por vezes distâncias que chegam a 4 mil milhas. Desta forma, a análise da variação regional ajuda a detectar a necessidade de investimentos estruturais e de fixação de profissionais em diversas regiões da saúde que não possuem capacidade de suprir as necessidades de seus cidadãos adscritos.